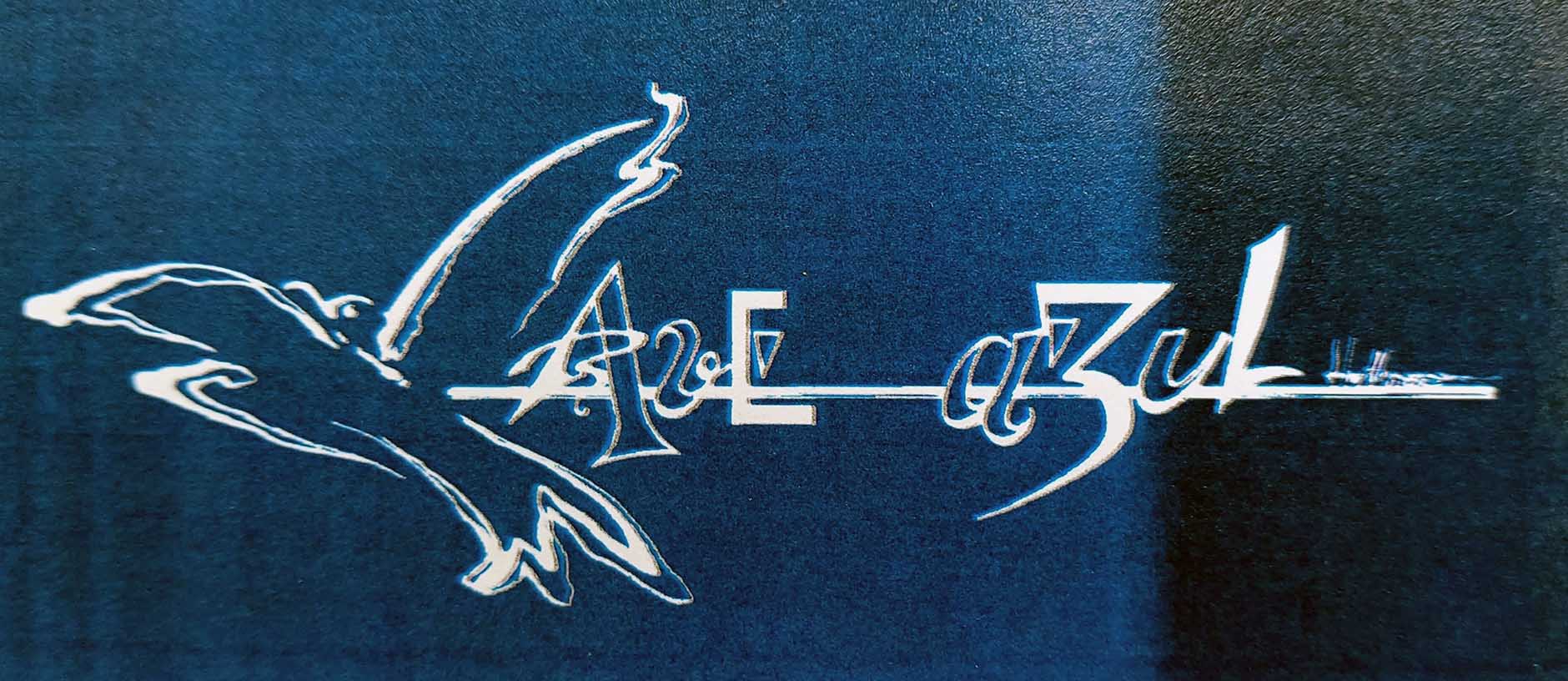Ajuste de contas, Judith
Descasei. 1913 pôs fim a um tormento. Fui acusada de adúltera, aquela que abandonado o lar, tem tráfico de amores com outros e outras. E depois? Fui ser feliz, sensorialmente feliz! Qual o mal? O mal está em querermos ficar reféns dos dias mesquinhos temperados com o calor do fogão.

Janeiro de 1989
Estou muito velha. Ainda este mês completo 86 anos de uma vida longa, muito longa mesmo. Pouco me apetece sair de casa, passear pelas ruas de Campo de Ourique. Não tenho já forças para responder à garotada que, insultando-me, segue atrás de mim ao ritmo da passada militar, talvez ensaiada nas paradas da Mocidade Portuguesa criada pelo detestável Marcelo Caetano, esse beato de pacotilha que lambia as vestes púrpuras dos dignitários católicos, mais hipócritas que fariseus do antigo testamento, mais nojentos, se tal é possível, do que o cónego que me baptizou na Sé de Viseu.
Viseu! Há tantos anos que te deixei… nem sei se alguma vez senti saudades das tuas ruas empedradas e sinuosas, da rua direita em forma de cobra deslizante, do trinar dos sinos das igreja, do adro da Sé, das escadinhas da rua escura, do pregão das vendedoras de carqueja, do toar das socas dos campónios, do odor pungente das suas samarras de inverno, do saltitar das senhoritas erguendo a orla dos vestidos rendados afastando-a do lixo e da bosta que as cavalgaduras soltavam para o lajedo escorregadio. Nem sei bem se alguma vez senti saudades do aroma das rosas que floriam nos jardins cuidados ou da flor das sardinheiras que sorria nas sacadas das casas mais pobres.
Cresci pelas ruas e vielas de Viseu, ouvindo o cantar dolente dos ceguinhos em versos de pé quebrado e o som do piano e da harpa trinados em serões de algumas casas. Lembro-me de uma, na rua senhora da Piedade, a de Beatriz Pinheiro que, dizem, tocava harpa como os anjos. Enrodilhada junto a uma das grossas colunas da sé, deixava-me entorpecer pelo cantochão dos cónegos em fastidiosas cerimónias. Adormecia quase sempre e quase sempre sonhava com uma cidade banhada pelo mar que nunca vira. Comia onde me davam um naco de pão e uma malga de caldo untuoso. Brincava nas ruas como garotos e garotas, experimentando as primeiras carícias e o afecto primordial que me era negado por palavras ruins e pesados sopapos que faziam mossa no meu ainda frágil corpo.
Um dia, não sei bem quando, teria por aí os meus treze, catorze anos e começava a escrever os primeiros incipientes poemas, que rasguei, na letra canhestra que me fora ensinada às escondidas, vi-me na cidade banhada pelo mar. Lisboa abraçava-me com força. Nunca mais quis libertar-me desse abraço forte que, asfixiando-me, deixava-me viver. E vivi. Muito. Tanto que me faltam as forças para descrever o que vivi e aprendi nesses dias que foram só meus e meus continuam a ser.
Casei. Encontrei um trouxa que me quis! Era bela, fogosa, sabia da vida e das coisas do amor. Ele não, mas deu-me casa, nome, capacidade de lutar por mim e não só pela minha subsistência. No tempo em que aturei a criatura, aprendi bastante sobre literatura, continuei a traçar umas linhas deslavadas que chamava poesia e, mais do que tudo, helas! consegui ser perfilhada pelo meu pai biológico, o infame alferes de infantaria, ou do raio que o partisse, Francisco dos Reis Ramos. Assim, por decisão do tribunal, em 1907, deixei de ser a Judith, só Judith, para me assinar Judith dos Reis Ramos. Outra dignidade ser dos Reis e Ramos e não a bastarda da Maria do Carmo.
Descasei. 1913 pôs fim a um tormento. Fui acusada de adúltera, aquela que abandonado o lar, tem tráfico de amores com outros e outras. E depois? Fui ser feliz, sensorialmente feliz! Qual o mal? O mal está em querermos ficar reféns dos dias mesquinhos temperados com o calor do fogão.
Um ano depois tornei a casar. Teve de ser. Sozinha, a vida torna-se muito difícil para uma mulher. E eu tinha saltado já para um outro patamar social que não se revia na prostituição. Antes o casamento. E assim foi. Desta vez ao Reis Ramos anexei Teixeira. Da filha bastarda de Maria do Carmo, sem qualquer apelido, passei a Judith dos Reis Ramos Teixeira, um nome com um certo tom histriónico e burguês, o status a que ascendi … Passei oficialmente a Judith Teixeira. Mas também fui Lena de Valois… Sim la petit Lena de Valois, un nom si français com que assinei alguns dos meus textos. Muitas de nós, escritoras e poetisas, usámos pseudónimos. Protegíamo-nos. Das más língua e da inveja masculina. Um apelido francês despertava muito mais a atenção do um qualquer luso, por mais nobilitado que fosse. Era assim no início do século XX
Ser esposa do Dr. Álvaro Teixeira, digníssimo advogado da nossa praça, apresentou-se-me como o passaporte de entrada em meios que dantes me estavam vedados. Foi o caso dos jornais. Assim, assinando Lena de Valois, «A Tarde» disponibilizou-me espaço para a publicação de dois contos: Alma Simples, edição de 21 de Outubro de 1918 e, três meses depois, Lali. Recordo-me perfeitamente das datas, dos contos e do meu pseudónimo de pouca dura.
O fim do flagelo que durante quatro longos anos assolou o mundo trouxe-nos uma euforia inusitada. Apesar da instabilidade política, do farisaísmo existente e da desconfiança que continuava a abater-se sobre as mulheres, – pois se os republicanos não nos concederam o direito ao voto por desconfiarem que estavam nos braços das sotainas! – parecia que tudo passava a ser possível. Vivi então intensamente a década que despontava. Mais do que intensamente. Inteiramente eu! Delirante, num frémito absoluto, do riso ao choro, da alegria à tristeza esmagadora, da luta inquieta à prostração total. Em 1922 o José Pacheco, director da revista «Contemporânea» teve a amabilidade de publicar-me. E viram a luz dois poemas Fim (retenho de memória os três últimos versos: Uivou dentro de mim a dor…/só lhe percorro o som e a cor/ em orgias de morfina!) e O meu chinês, aquele que vive sobre uma almofada/ de cetim bordada,/pintado a cores, a almofada a que agora, no estertor da vida, me encosto, aquela que sempre amparou os meus cansaços. Em Fevereiro do ano seguinte, como esteve frio nesse Fevereiro longínquo, era posto à venda o meu livro de poemas Decadência. Muito aplaudido na imprensa, basta consultar os arquivos do «Diário de Lisboa» e do «Século», e a sua autora, eu, Judith Teixeira, elevada aos píncaros da poesia, cedo foi pasto de abutres que o liam e o sentiam como um ataque à moral bafienta da burguesia beata de então e de hoje. Em abono da verdade, não evoluiu grande coisa, bem pelo contrário… Como é que a raparigota de Viseu, que, sem o querer, deixava vir à tona o sotaque beirão, ousava falar de amores lésbicos, ou de outros amores mais, que protegidos por pesados e opacos reposteiros não se desnudam á luz do dia! Santa hipocrisia esta que procurava calar carícias tão antigas como o mundo, quando elas eram tão comuns nos becos tutelados pelas torre da catedral em que brincava quando criança!
1923 foi o ano do escândalo poético. O meu primeiro livro de poesia, as Canções do António Botto, poeta invertido, grande amigo de Pessoa, (coitado, teve um triste fim… morreu atropelado no Rio de Janeiro por onde se mudou em 1947, por não aguentar mais a maledicência duma Lisboa, agora nas mãos do “Botas”, o diácono de Santa Comba) e a obra de Raul Leal, Sodoma Divinisada foram apreendidos pela política de costumes e levadas ao Governo Civil de Lisboa para serem queimadas. Um autêntico auto de fé! Não me posso esquecer que nesta cruzada contra a Gomorra que nós representávamos estiveram bem activos dois indefectíveis do grão vizir das beiras, o esfíngico Salazar, – Marcelo Caetano e Pedro Teotónio Pereira … podiam ser homens cultos, mas não percebiam nada de prazer… Ao outro, aquele que com garras de abutre abocanhou o país, e dizem ser virgem, o que é uma perfeita patetice, tive o prazer de lhe contrariar o poder, servindo de correio entre os resistentes que por cá ficaram e os exilados que resistiam lá fora… Como me deu gozo fazer de pombo!…
Eu tinha tantos poemas em carteira! Não se esgotaram na obra queimada. Assim, em Junho publiquei Castelo de Sombras e em Dezembro, – as prerrogativas de ter feito o casamento como o Dr. Teixeira, – quase clandestinamente, reeditei Decadência. A minha primeira obra, como os inquisidores queriam, não se perdeu!
Em 1925, dirigi a revista Europa. Foram só três números, mas que números! Por lá passaram textos do meu quase conterrâneo Aquilino Ribeiro, de Ferreira de Castro, de Reinaldo Ferreira e da minha irmã na poesia e na dor Florbela Espanca, aquela que andava perdida pelo mundo e, tão nova ainda, se matou em Matosinhos, porque amar perdidamente e sem norte cansa… e muito.
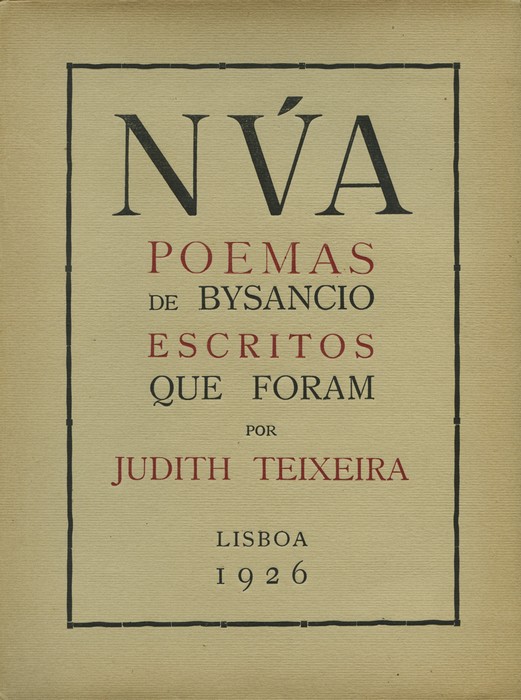
O meu último livro, Nua, apareceu em 1926. Um ano terrível. O golpe militar de 28 de Maio transportava já o que de mais tenebroso e sinistro viria a acontecer. Uma putativa moralização dos costumes pela lente hipócrita da padralhada e seus apaniguados, a censura, a coação, o cerceamento dos direitos, Alguém, usando cobardemente o pseudónimo Ariel, escreveu na revista «Revolução Nacional» que a minha poesia tresandava ao morno fartum da alcova. Marcelo, na Ordem Nova, chamou-me desavergonhada, que era a sua maneira elegante de me denominar puta. Invejosos é o que eles eram! Mas não ficaram sem troco. Publiquei um manifesto em favor da liberdade de ser e de escrever que intitulei Conferência de Mim. Mas a liberdade de pensar, escrever, falar e até de sentir estava a ser varrida desta terra. A censura imperava já e as palavras dizíveis estavam a ser reinventadas. Viajava pela Europa quando, em 1927 saiu o meu último livro Satânia, um conjunto de contos dedicadas à mulher, ao seu corpo, aos prazeres, ao riso, à festa, à droga, ao choro e à morte.
Apesar de em 1938 ter ainda escrito para o Diário de Notícias, caí no esquecimento. Mas esse tempo era já de chumbo neste Portugal plantado à beira do Atlântico. As ondas azuis transformaram-se em lágrimas dum povo cabisbaixo, obediente, a bater contristado como a mão no peito, pedindo perdão por pecados não cometidos…Desapareci da esfera pública. Foi o que de melhor fiz. Hoje ninguém sabe quem eu sou… alguns talvez me conheçam, não como a poetisa maldita, mas como a mulher que se dedicou ao negócio das antiguidades, a quem um sobrinho tirou tudo…
E aqui estou, recostada na almofada do meu chinês, como os olhos chorosos, avermelhados e as pestanas cobertas por um rímel compacto, as faces engelhadas e pálidas avivadas com carmim, tapada com aquele quimono que sobrou dos gloriosos anos vinte. Aqui estou até que a tosse, que me consome, depois de fumado o último cigarro, trave de vez o meu respirar.
Um dia, talvez, quando o tempo for radioso e a liberdade possa ser cantada nas avenidas, alguém se lembre de mim, da Judith que um dia escreveu versos malditos como estes:
O teu corpo branco e esguio
prendeu todo o meu sentido…
Sonho que pela noite, altas horas
aqueces o mármore frio
do alvo peito entumecido…
E quantas vezes pela escuridão
a arder em febre dum delírio,
os olhos roxos como um lírio,
venho espreitar os gestos que eu sonhei …
…………………………………………………………………………
-Sinto rumores duma convulsão,
a confessar tudo que eu cismei!
…………………………………………………………………………
Ó Vénus sensual!
Pecado mortal!
do meu pensamento!
Tens nos seios de bicos acerados
num tormento
a singular razão dos meus cuidados.
Janeiro de 2021
Anabela Silveira